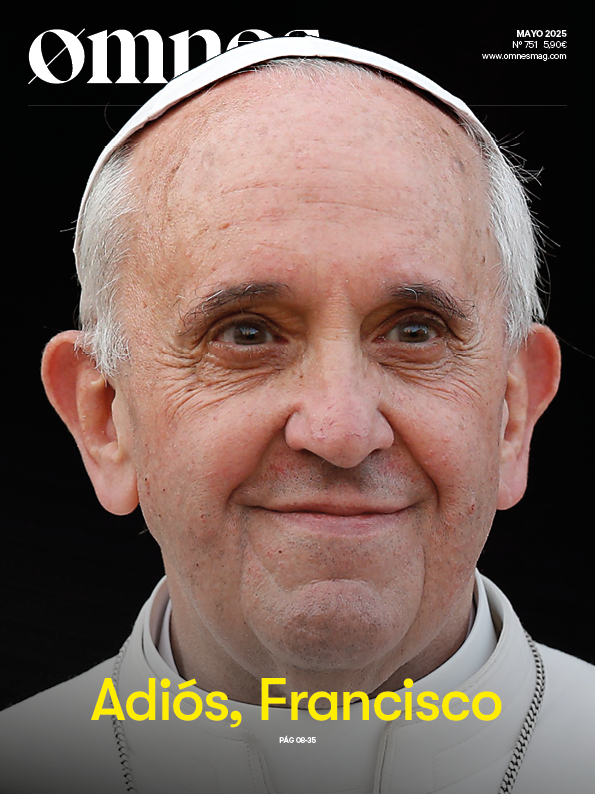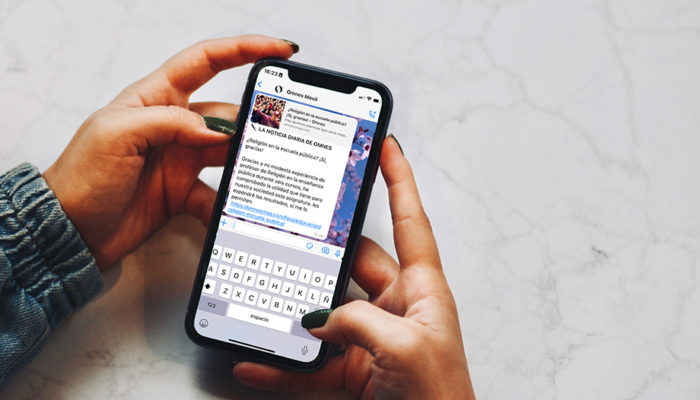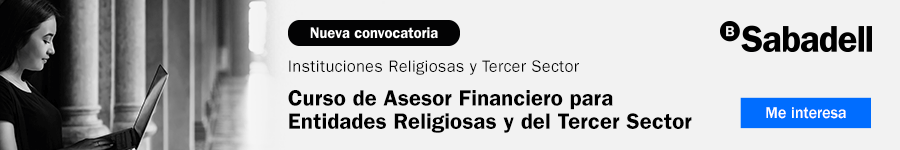O famoso filósofo prussiano Immanuel Kant (1724-1804) deixou um testemunho pessoal de uma pessoa honesta e trabalhadora. Era mais simpático e sociável do que um registo anedótico mal escolhido o retrata por vezes. De origem humilde e protestante, com um empenhamento intelectual e uma seriedade moral a que nunca renunciou, embora tenha perdido a fé na revelação cristã e talvez em Deus. Alguns fragmentos da sua Opus postumum (ed. 1882, 1938) pode dar esta sensação, que é difícil de avaliar.
O esclarecimento de Kant
É o mais representativo e, ao mesmo tempo, o menos esclarecido, porque os outros não são tão profundos nem tão sérios. E não era maçon. E, além disso, há muitos ilustrados católicos (Maias, Feijóo, Jovellanos...). Mas ele definiu O que é a ilustração (1784), resumindo-o no lema "Atreva-se a saber". (sapere aude). Isto significava tornar-se intelectualmente adulto e libertar-se dos tutores e da tutela (e também da censura estatal prussiana e protestante) para pensar por si próprio e procurar o conhecimento em todas as fontes autênticas. Um ideal que os católicos podiam abraçar e abraçaram em todo o conhecimento natural. Mas estamos conscientes de que precisamos da revelação de Deus para conhecer as profundezas do mundo criado e de nós próprios, e também para nos salvarmos em Cristo.
Mas Kant, como muitos do seu tempo e do nosso, não confiava nos testemunhos históricos cristãos. Por isso, quis separar a religião cristã da sua base histórica (Jesus Cristo) e compôs A religião dentro dos limites da razão (1792). Reduzindo o cristianismo a uma moral sem dogma, e tendo amplas repercussões nos mundos protestante (Schleiermacher) e católico (modernismo).
Diz-se que, tal como o pensamento católico depende de Aristóteles cristianizado por São Tomás, o pensamento protestante depende de Kant cristianizado por Schleiermacher (1768-1834). A diferença é que São Tomé O vocabulário de Aristóteles ajuda-o a pensar e a formular bem a Trindade e a Encarnação, enquanto para Schleiermacher, o agnosticismo de Kant obriga-o a transformar os mistérios cristãos em metáforas brilhantes. Tudo o que resta é a consciência humana perante o absoluto e Cristo como realização última (pelo menos por enquanto) dessa posição. E o mandamento do amor ao próximo como aspiração à fraternidade universal, que é o que o liberalismo protestante que segue Schleiermacher resumirá da seguinte forma A essência do cristianismo (1901, Harnack).
Mas o católico Guardini recordar-lhe-á que A essência do cristianismo (ed. 1923, 1928) é uma pessoa e não uma ideia, Jesus Cristo. Que este Jesus Cristo é O Senhor (1937), o Filho de Deus, com o qual estamos unidos pelo Espírito Santo. E que tudo isto é celebrado, vivido e expresso na liturgia sacramental da Igreja (O espírito da liturgia, 1918).
A Crítica da Razão Pura
Duas tradições colidem na formação filosófica de Kant: por um lado, a tradição racionalista de Spinoza e Leibnitz, mas sobretudo a de Christian Wolff (1679-1754), hoje quase desconhecido, mas autor de uma obra filosófica enciclopédica com todas as especialidades e metafísica, centrada em Deus, no mundo e na alma. Kant não conhecia diretamente nem a escolástica medieval nem a tradição grega clássica (não lia grego). Por isso, a sua Crítica da razão pura (ed. 1781, 1787)Acima de tudo, critica o método racionalista de Wolff e a sua metafísica.
Esta posição choca com o empirismo inglês, especialmente o de Hume (1711-1776), com a sua distinção radical entre a experiência dos sentidos (empírica) e a lógica das noções, que dão origem a dois tipos de provas (Matéria de facto / Relação de ideias). E a sua crítica de noções-chave como a "substância (noção de sujeito ontológico), que inclui o eu e a alma, e a do "causalidade. Para Hume, um feixe de experiências do eu unidas pela memória não pode ser convertido num sujeito (uma alma) e nem uma sucessão empírica e habitual pode ser convertida numa verdadeira "causalidade racional". onde a ideia de uma coisa obriga logicamente a outra. A isto junta-se a física de Newton que descobre um comportamento necessário no universo através de leis matemáticas. Mas como pode haver um comportamento "necessário" num mundo empírico?
Kant vai deduzir que as formas e ideias que a realidade não pode dar, porque é empírica, são detidas e dadas pelas nossas faculdades: a sensibilidade (que dá o espaço e o tempo), a inteligência (que detém e dá a causalidade e as outras categorias kantianas) e a razão (pura), que maneja as ideias de alma (eu), mundo e Deus, como forma de unir coerentemente toda a experiência interna (alma), externa (mundo) e a relação entre as duas (Deus). Isto significa (e é isto que Kant diz) que a experiência externa coloca a "matéria" de conhecimento, e as nossas faculdades dão-lhe "formulário".. Assim, o que é inteligente é fixado pelo nosso espírito e não é possível discernir o que está para além dele. Kant não reconhece este facto, mas o idealismo posterior levá-lo-á ao extremo (Fichte e Hegel).
Reacções católicas
O Crítica da razão pura suscitou imediatamente uma forte reação nos meios católicos, sobretudo entre os tomistas. Muitas vezes inteligente, outras vezes deselegante. Foi provavelmente o meio que lhe dedicou mais atenção, consciente do que estava em causa. Embora a referência imediata de Kant seja a metafísica de Wolff (e isso produz algumas distorções), toda a metafísica clássica (e a teoria do conhecimento) é afetada. Este esforço deu mesmo origem a uma disciplina no currículo, chamada, conforme o caso, Epistemologia, Crítica do Conhecimento ou Teoria do Conhecimento.
A tradição tomista, com todo o seu arsenal lógico escolástico, dispunha de instrumentos de análise mais finos do que os utilizados por Kant, embora as análises kantianas também os tenham por vezes ultrapassado. Com uma certa ignorantia elenchiKant repropõe o problema escolástico dos universais, que foi imensamente debatido. Ou seja, como é que é possível derivar noções universais da experiência concreta da realidade. Isto requer uma boa compreensão da abstração e separação, e da indução, operações de conhecimento que foram muito estudadas pela escolástica. Além disso, a "entidades da razão". (como o espaço e o tempo) que têm uma base real e podem ser mentalmente separados da realidade, mas não são coisas, nem formas prévias de conhecimento.
O jesuíta Benedict Stattler publicou um Anti-Kantem dois volumes, já em 1788. Desde então, foram publicados muitos outros. É de registar a atenção que lhe dedicou Jaime Balmes na sua Filosofia fundamental (1849), e Maurice Blondel no seu Notas sobre Kant (em A ilusão idealista1898), e Roger Vernaux, no seu comentário às três críticas (1982) e noutras obras (como o seu vocabulário kantiano). Também os autores católicos das grandes histórias da filosofia, que lhe dedicam importantes e serenas críticas. Teófilo Urdánoz, por exemplo, dedica 55 páginas do seu História da filosofia (IV) ao Crítica da razão purae Copleston quase 100 (VI). É claro que Kant fez pensar muito o mundo católico.
A Crítica da Razão Prática
Para além do Crítica da razão pura acaba num certo (embora talvez produtivo) trava-línguas e num círculo vicioso (porque não há forma de saber o que podemos saber), o Crítica da Razão Prática (1788)é uma experiência interessante sobre o que a razão pura pode estabelecer autonomamente em matéria de moral. É claro que se deve dizer desde já que a moralidade não pode ser deduzida inteiramente pela razão, porque é em parte extraída da experiência (por exemplo, a moralidade sexual ou económica) e há também intuições que nos fazem perceber que algo funciona ou não funciona, ou que há um dever de humanidade ou que vamos fazer mal. Mas Kant tende a ignorar o que parece ser "sentimentalismo".porque se propõe ser inteiramente racional e autónomo na descoberta das regras universais da ação. Este é o seu mérito e, ao mesmo tempo, o seu limite.
Como primeiro imperativo categórico (auto-evidente e autoimposto), afirmará: "Age de tal forma que a máxima da tua vontade possa ser sempre válida ao mesmo tempo que o princípio de uma legislação universal".. Um princípio válido e interessante em abstrato, embora na sua aplicação prática na consciência exija um alcance e um esforço que em muitos casos é impossível: como deduzir dele todos os comportamentos quotidianos. Um segundo princípio, que aparece no A razão de ser do Metafísica da moral (1785), é: "O homem, e em geral todo o ser racional, existe como um fim em si mesmo, e não apenas como um meio para qualquer uso desta ou daquela vontade; ele deve em todas as suas acções, não apenas as dirigidas a si mesmo, mas as dirigidas a outros seres racionais, ser sempre considerado ao mesmo tempo como um fim". (A 65).
Só por esta feliz formulação, Kant mereceria um grande lugar na história da ética. João Paulo II, ao refletir sobre os fundamentos da moral sexual, baseou-se fortemente nesta máxima para distinguir o que pode ser um uso desrespeitoso de outra pessoa, ou, dito de forma positiva, que a vida sexual é sempre um tratamento digno, justo e belo entre pessoas (Amor e responsabilidade, 1960). E deu origem àquilo a que o então professor de moral, Karol Wojtyla, chamou "regra personalista".. À consideração kantiana, acrescentou que a verdadeira dignidade do ser humano como filho de Deus exige não só o respeito mas também o mandamento do amor. Cada pessoa, devido à sua dignidade pessoal, merece ser amada.
Há um outro aspeto marcante na tentativa kantiana de uma moral racional e autónoma. Trata-se da "três postulados da razão prática".. Para Kant, princípios necessários ao funcionamento da moral, mas indemonstráveis: a existência da liberdade, a imortalidade da alma e o próprio Deus. Se não há liberdade, não há moralidade. Se não há Deus, não é possível harmonizar a felicidade e a virtude, e garantir o sucesso da justiça com a devida retribuição. Isto exige também a imortalidade da alma aberta a uma perfeição que é impossível aqui. Isto recorda o comentário de Bento XVI sobre os fundamentos da vida política, que devem ser etsi Deus daretur, como se Deus existisse. A moral racional também só pode funcionar etsi Deus daretur.
Por último, é surpreendente o facto de Kant se referir, em diferentes locais, à "mal radical".. A evidência, tão contrária à racionalidade adulta e autónoma, de que o ser humano, com espantosa frequência e com plena lucidez, não faz o que sabe que deve fazer ou faz o que sabe que não deve fazer: a experiência de S. Paulo em Romanos 7 ("Não faço o bem que quero fazer, mas o mal que não quero fazer".Como o compreender? E, mais ainda, como o resolver?
O tomismo transcendental de Marechal (e de Rahner)
O jesuíta Joseph Marechal (1878-1944) foi professor na casa jesuíta de Lovaina (1919-1935) e dedicou grande atenção a Kant, o que se reflecte nos cinco volumes da sua obra O ponto de partida da metafísica (1922-1947) publicados pela Gredos num único volume e traduzidos, entre outros, por A. Millán Puelles. Particularmente no volume IV (ed. francesa), Maréchal prestou atenção ao tema kantiano das condições a priori ou condições de possibilidade do conhecimento.
Karl Rahner (1904-1984), sempre atento aos últimos desenvolvimentos intelectuais, tomou emprestado algumas noções e vocabulário do tomismo transcendental de Maréchal. Acima de tudo, o "condições de possibilidade. A sua teologia fundamental baseia-se nisto, porque pensa que o entendimento humano é criado com condições de possibilidade que o tornam capaz de revelação e, nessa medida, são uma espécie de revelação. "athematic". já implícito no próprio entendimento. E é isso que faz com que todos os homens, de alguma forma "Cristãos Anónimos. A crítica a fazer é que o próprio entendimento, tal como é, já é capaz de conhecer a revelação que lhe é dada de uma forma adequada ao modo humano de entender, "com actos e palavras". (Dei verbum). Todos os seres humanos são "Cristãos AnónimosMas não porque já o são, mas porque são chamados a sê-lo.
Assim, de muitas maneiras, Kant fez com que os filósofos e teólogos católicos pensassem e trabalhassem arduamente, mesmo que seja difícil fazer uma avaliação geral dos resultados devido à imensa amplitude e complexidade das questões.